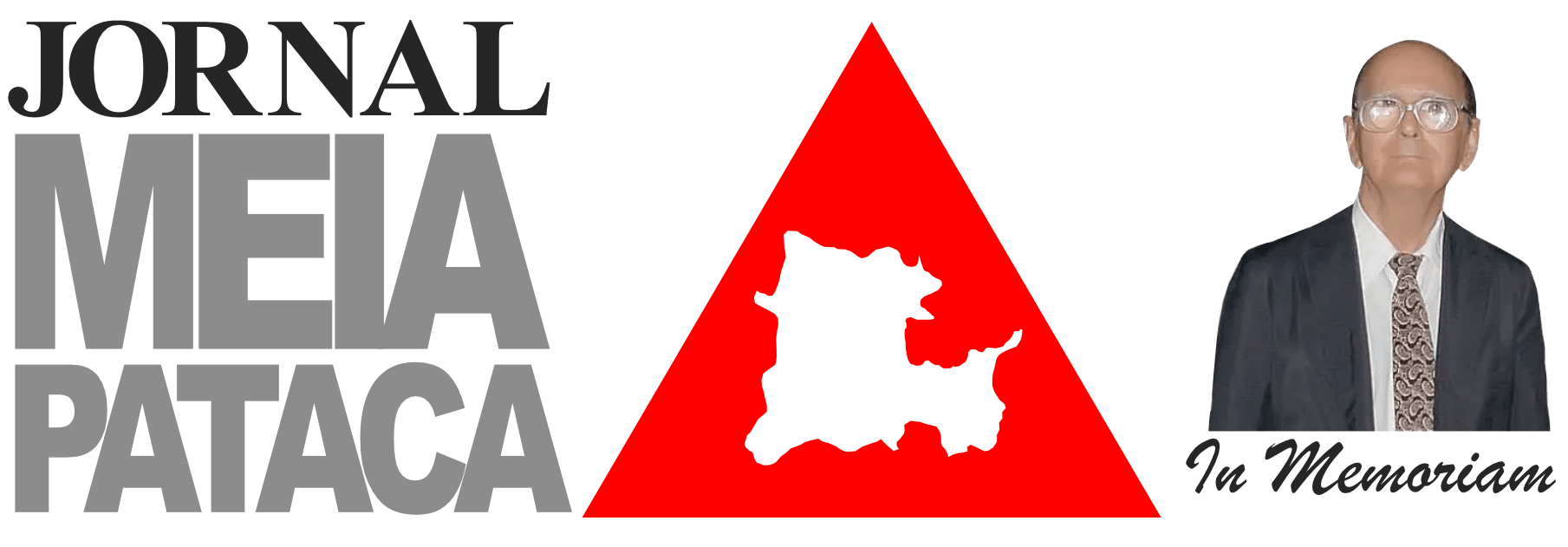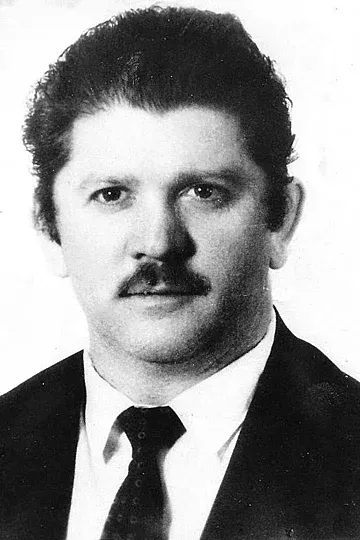Vereadores pedem aumento salarial para os operários das fábricas de tecido - eles se negam a aceitar em defesa dos patrões
Nas eleições de 1947, o operariado se tornou um importante objeto de disputa eleitoral. A maior parte desse operariado tinha origem nos distritos, na zona rural e cidades vizinhas, como: Cataguarino, Sereno, Astolfo Dutra, Santana, Itamarati, Guidoval, Mirai, Piacatuba, Leopoldina e outras.
A instalação das indústrias exerceu forte atração sobre a população rural, promovendo um êxodo em direção à cidade. Como eram indústrias têxteis, a grande maioria dos operários da tecelagem era do sexo feminino. Os homens normalmente eram contratados para serviços gerais, carpinteiros, pedreiros e mecânicos. Com o passar do tempo, foram aumentando as contratações de homens também para a tecelagem. Normalmente entrava-se muito cedo na fábrica: entre 14 e 15 anos e era muito comum “aumentar idade” para conseguir trabalho. Havia contrato especial para aprendizes. O menor era admitido para uma jornada de trabalho de 8 horas e um salário de 50% do mínimo vigente. Terminado o prazo de aprendizagem, o contrato poderia ser rescindido ou transformado em contrato de prazo indeterminado. Apesar de muitos permanecerem na fábrica até se aposentarem, havia uma alta rotatividade, ou seja, muitos entravam e saíam num curto espaço de tempo. (Informações colhidas de acordo com as fichas de admissão dos operários da Indústria Irmãos Peixoto. O processo de catalogação dessas fichas está em andamento no Centro de Documentação Histórica – CDH).
Quanto ao movimento sindical, a partir de 1944, o imposto sindical começou a ser descontado em folha. Contudo, o primeiro sindicato da cidade, o Sindicato de Fiação e Tecelagem, só foi reconhecido oficialmente em 1950, antes dessa data ele existia como associação e funcionava clandestinamente, uma vez que seus membros eram ameaçados de demissão.
É este operariado que foi objeto de disputa política entre os dois contendores. Na verdade, esta disputa começou na década de 1930. Logo no seu discurso de posse como prefeito, em 1931, Pedro Dutra, prometeu a construção de uma "Vila Operária" e a criação de uma “Liga Operária”, que deveria ser um centro de defesa do proletariado. Para tanto, procurou se inteirar das leis sindicais e movimentos operários. Pela legislação sindical vigente, o governo só reconhecia um sindicato de cada classe em cada localidade. Isso significa que se ele conseguisse reconhecer os “seus” sindicatos, os adversários não poderiam organizar outros da mesma profissão. O que poderiam fazer é tentar incluir nos sindicatos já reconhecidos um número maior de sócios. Quem tivesse a maioria poderia tomar conta da direção do sindicato. (Cf. carta de Wagner a Pedro Dutra. Rio, 15/01/1933. Correspondências pessoais de Pedro Dutra. Centro de Documentação Histórica – CDH)
Apesar das tentativas, não conseguiu organizar um sindicato com bases sólidas. Seus esforços, contudo, resultaram na criação da “União Operária”. Esta, deveria “pugnar pela regulamentação do trabalho, da exata aplicação da lei de férias e melhoria do salário...” (Jornal Cataguases, 15.01.1933)
Essa associação foi criada como entidade jurídica, possuindo estatuto próprio (Em 1933, Pedro Dutra conseguiu, através de seus contatos políticos, um esboço do estatuto do Círculo Operário Pelotense, que provavelmente deve ter servido de modelo para elaboração do estatuto da União Operária criada por ele) e tinha por finalidade defender, dentro dos princípios do direito, o que “de direito couber à classe unida”.
A União confirmava Pedro Dutra como verdadeiro representante dos interesses dos trabalhadores e pedia aos operários seu voto para elegê-lo deputado federal. Não é difícil entender os motivos que levaram Pedro Dutra a se ocupar tanto com a questão do operariado. Seu adversário político, Manoel Peixoto, era industrial. Como dono de várias fábricas na cidade e investindo em indústrias, ele possuía um número cada vez maior de trabalhadores sob o seu comando. Numa época em que o voto ainda é visto – tanto pelos eleitores, como pela elite política – não como instrumento de representação, mas como instrumento de dominação ou, na melhor das hipóteses, como instrumento de troca – era fácil para os donos das indústrias controlar o voto de seus operários. “Dou meu voto a quem me dá emprego”, é a mentalidade reinante, que por muito tempo fez parte da nossa “cultura política”.
Diante desse quadro, a preocupação de Pedro Dutra, como chefe político, que pretendia continuar na direção do município, faz sentido. Tornava-se necessário obter a adesão política do operariado de alguma forma. A defesa das leis trabalhistas, o empenho em criar uma “União Operária”, que visasse defender o trabalhador contra a exploração dos patrões, a “Vila Operária” e outras coisas do gênero, lhe proporcionava os instrumentos necessários para tentar abarcar esse eleitorado que, de certa forma, se encontrava no “campo do adversário”. Apesar dessa preocupação com o operariado ter se iniciado na década de 1930 foi na década de 1940 que a disputa pelo apoio do operariado atingiu seu auge.
Nas eleições municipais de 1947 operários das fábricas de tecido da cidade foram transformados em cabos eleitorais. Grupos de operários percorriam bairros e visitavam casas fazendo campanha. No dia do pleito, vários operários eram distribuídos próximos as seções eleitorais, com a incumbência de trocar cédulas. Como já foi ressaltado, não havia ainda cédulas oficiais, sendo as mesmas confeccionadas e distribuídas pelos partidos e candidatos.
Apesar de ter cédulas de todos os candidatos disponíveis nas cabines eleitorais, o eleitor normalmente já levava a cédula de seu candidato de casa. Assim, nas proximidades de sua seção, o eleitor era abordado pelos cabos eleitorais que davam a cédula do seu candidato – no caso aqui, do candidato da UDN – e recolhiam a cédula do candidato adversário, jogando fora. É o que se chamava “trocar cédulas”. Segundo depoimentos, no dia das eleições os operários eram convocados para irem à fábrica, onde recebiam as cédulas dos candidatos em quem deveriam votar. De lá eram conduzidos, por um fiscal, até ao local de votação. Após votarem, retornavam à fábrica e só então eram liberados.
Pedro Dutra, como delegado do PSD local, denunciou essas práticas eleitorais e encaminhou notificações ao juiz eleitoral da comarca, contra os diretores das indústrias têxteis da cidade, por exercer coação sobre seus empregados, “ameaçando-os de demissão caso não sufraguem no pleito de amanhã os candidatos de sua preferência”, que não revistem seus colegas, nem “troquem cédulas nas vésperas e no dia do pleito”.
Afirma que os ditos diretores já possuem em seu poder, listas para exoneração de operários “que não rezem pela sua cartilha política”.
(Notificação eleitoral de 21.11.1947. Centro de Documentação Histórica – CDH).
Numa outra notificação, Pedro Dutra denuncia que, nas vésperas do pleito municipal, os diretores das indústrias Irmãos Peixoto, Manufatora e Saco-Têxtil suspenderam seus trabalhos após o meio-dia e “puseram todos os operários na rua, dando-lhes a tarefa de recolher e trocar todas as cédulas das casas de operários seus colegas de outras turmas e exercerem intimidação sobre os mesmos, no sentido de que votassem nos candidatos da preferência deles patrões”. Pede providências ao juiz eleitoral, alegando violação da lei eleitoral e da Constituição Federal, sendo, portanto, crime eleitoral, o ato de coação praticado pelos industriais.
Esses episódios deixam claro como o operariado foi envolvido na luta política dos dois chefes locais e usado como um instrumento a serviço da disputa eleitoral, ao mesmo tempo, que se tornou também objeto dessa disputa, já que ambos competiam entre si, pelo apoio e o voto do trabalhador fabril.
Essa disputa pelo apoio político do operariado não cessou com o término das eleições. Durante toda a década de 1940, a classe operária ocupou o centro da contenda política entre os dois chefes.
Em 1949, os vereadores do PSD na Câmara Municipal, se manifestaram pedindo aumento de salário para os operários das fábricas de tecido do município. (Atas de reunião da Câmara, dias 28.10.1949 e 09.11.1949. Arquivo da Prefeitura Municipal de Cataguases). Como resposta, junto às correspondências da câmara, dois abaixo-assinados dos operários das Indústrias Irmãos Peixoto e Companhia Industrial Cataguases, repudiando a exploração política dos adversários de seus patrões. Segundo eles, a indicação apresentada na Câmara pelo aumento de salários, só serve para prejudicá-los. Reafirmam sua posição ao lado de seus patrões, pois são eles que dão “o emprego, a remuneração e a ajuda nas dificuldades”. Criticam a postura dos adversários, “caçadores de votos que se arvoraram ultimamente em defensores do aumento de nossos salários”, mas que se interessavam mesmo é pela união contra os patrões, para a “conquista de nossos votos” e defendem seus patrões, “homens honrados, progressistas e merecedores de consideração”, com os quais dizem viver em harmonia.
O meio fabril se tornou um campo de disputa eleitoral entre os dois chefes políticos: Manoel Peixoto era dono das indústrias e do emprego, o que dava o sustento para o trabalhador e sua família. Pedro Dutra era o defensor dos direitos dos trabalhadores e das leis trabalhistas, era o que defendia os operários contra a exploração dos patrões. Eis os dois discursos opositores, através dos quais, as duas facções procuravam angariar os votos dos operários. E quanto aos operários? Como se posicionavam diante dessa contenda? Ao que tudo indica, eles tinham poucas opções: ou ficavam do lado dos patrões ou eram demitidos. É claro que neste caso, um enfrentamento aberto traria mais prejuízo para o operário, que perdia seu emprego. O patrão simplesmente colocava outro em seu lugar.
O operário tinha uma terceira alternativa: a dissimulação. Apesar de toda a fiscalização e vigilância, havia aqueles que sempre procuravam um jeito de burlar o controle. No caso da troca de cédulas, por exemplo, os operários eram obrigados a fazê-la porque tinha alguém fiscalizando. Todavia, se era simpatizante do candidato da oposição, na menor oportunidade ou distração do fiscal, fazia campanha contrária e pedia voto para o adversário do patrão. Aliás, a indisciplina não era algo ausente no ambiente fabril. Eram comuns advertências escritas onde o operário era acusado de negligência no trabalho, de conversas e “brincadeiras”. As faltas também eram comuns. Tudo isso, somado a grande rotatividade no quadro de empregados, dificultava a formação de uma massa coesa e dócil de operariado.
Portanto, se por um lado, havia um severo controle, coações e ameaças, por outro lado, a imposição de toda essa disciplina não era algo tão simples de ser posto em execução e sempre havia aqueles que sabiam aproveitar as brechas do sistema e conseguiam escapar “por entre os dedos”. É claro que de maneira geral, as coações e os mecanismos de cooptação exercidos sobre os operários funcionavam. Seja pelo medo ou mesmo pela simpatia, a maioria votava com o patrão.
Não podemos encarar o operariado como simplesmente uma “massa” que se modela a bel prazer, ou como um “gado” que se conduz para onde se quer. Sabemos que as pressões eram fortes e na maioria das vezes funcionavam, mas, além de ser objeto de disputa política – e realmente eles eram – os operários eram também sujeitos e, mesmo não tendo promovido nenhuma grande mobilização, como greves, passeatas e coisas desse tipo, muitos souberam criar mecanismos para tentar escapar do controle e aproveitar as rachaduras do sistema para poder se expressar livremente através do voto.
Quanto ao alistamento, este já era obrigatório. Contudo, a lei ainda mantinha o alistamento ex-officio, garantindo o direito dos patrões alistarem seus empregados. Isso significa que o alistamento continuava sendo uma peça importante no processo eleitoral, para a garantia do voto, uma vez que, no imaginário popular, o eleitor se sentia compromissado com quem o alistava.
Por outro lado, a caça ao voto deixa transparecer também algumas práticas eleitorais utilizadas na disputa, como troca de cédulas, coações e ameaças, mostrando mais uma vez, que a prática cotidiana nem sempre anda lado a lado com a legislação.
Apesar do desenvolvimento vivido pela cidade, com o crescimento urbano e industrial, apesar da modernização e da “modernidade”, as práticas políticas continuaram arcaicas e conservadoras e a eleição, por muito tempo, continuou sendo um instrumento mais de dominação do que de representação política.
Foto: Operário trabalhando, inclusive crianças - Acervo Público - sem referência de data
Fonte: A disputa de grupos familiares pelo poder local na cidade de Cataguases – práticas, representação e memória
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, pela Professora e Mestre em História, Odete Valverde Oliveira Almeida.